Simone Martini - Miracle of Fire (1312-1317)
No n.º 54 (Julho-Agosto, 2012) do Le Monde des Religions há um artigo sobre os bastidores dos milagres em Lurdes (só disponível para assinantes; a alternativa é comprar em papel). Há momentos, no artigo, que não podemos deixar de evocar a epistemologia de Karl Popper e a sua teoria falsificacionista. Para Popper, a actividade científica visa refutar as teorias científicas admitidas. Qualquer teoria, por mais bem estabelecida que se encontre, não passa de uma mera conjectura. A ciência progride pelas refutações das teorias estabelecidas, e a actividade científica visa falsificar (mostrar que são falsas) as teorias.
Segundo o artigo de Mikael Corre, Lourdes, les coulisses du miracle (Lurdes, os bastidores do milagre), o processo para declarar, actualmente, uma cura como milagrosa é extraordinariamente complexo e moroso. Começa com uma definição teórica, digamos assim, que estabelece os parâmetros empíricos do que pode ser considerado uma cura miraculosa: «a cura deve ser "súbita e obtida num instante", durável e não implicando convalescença». Valeria a pena uma cuidada análise do problema temporal colocado por esta definição, o jogo entre a instantaneidade e a durabilidade. Uma cura milagrosa é aquela que chega vinda fora do tempo. É súbita e instantânea, o que significa a ausência de uma causalidade física. Ela não resulta de um processo mas de uma irrupção salvífica de algo que está para além da temporalidade. Mais, essa irrupção no puro instante é completa e total, pois a ausência de convalescença é um elemento central do fenómeno. Esta implica a duração, um percurso na temporalidade, o que significaria um processo físico-biológico. Por fim, vem a durabilidade do efeito. Aquilo que é uma manifestação vinda do além-tempo só ganha sentido se, manifestando-se como cura no corpo doente, perdura no tempo.
O processo passa, em primeiro lugar, por um departamento médico cuja finalidade, utilizando a linguagem de Karl Popper, é de tentar falsificar (mostrar que é um falso milagre) o acontecimento, mostrando que a cura pode ser explicada por causas naturais. Este processo, do ponto de vista epistemológico é também muito interessante, pois "exclui todas as doenças psicológicas (pois são organicamente inverificáveis) e aquelas sob tratamento (pois este pode ser a causa da cura, mesmo que isso seja estatisticamente improvável)". Há todo um esforço de reduzir o fenómeno a uma explicação empírica e testável. Mas se a cura é "inexplicável no estado actual dos conhecimentos médicos", o dossier passa um segundo comité médico, de âmbito internacional. Apenas os casos que passam nesta segunda comissão de carácter médico-científico é que são remetidos para esfera religiosa, para o bispo do lugar da pessoa curada (e não para o bispo de Tarbes e Lourdes) que, ajudado por uma comissão canónica diocesana, determina se a cura pode ser declarada, segundo a fé, milagrosa ou não. A última declaração de uma cura milagrosa foi em 2005 e era referente a um processo que tinha 53 anos.
O que é pertinente observar é o extremo cuidado com que a Igreja Católica lida com este tipo de fenomenologia e a mobilização que faz de uma aparelhagem científica e filosófica para determinar a verosimilhança metafísica do fenómeno. Não é apenas o recurso à ciência médica que está em jogo, ou o recurso a uma certa concepção epistemológica que pode encontrar raízes ou semelhanças em/com o falsificacionismo popperiano. Há no processo, mesmo depois de declarada a natureza milagrosa da cura, um elemento que - embora eu não saiba se isso, no âmbito da Igreja, é praticável e praticado - permite reverter a declaração: "a cura é inexplicável no actual estado dos conhecimentos médicos". O que deixa em aberto o caminho para falsificar o milagre declarado (mostrar que é falso), pois novas formas de compreensão das patologias poderão trazer uma nova compreensão da doença e da cura, mesmo que esta seja instantânea e tenha efeitos duradouros.
Esta racionalidade religiosa, esta busca de uma probidade intelectual em matéria de fé, por parte da Igreja Católica, pode ser uma das variáveis a ter em conta para explicar a razão do declínio dessa mesma fé. Esta, pelo menos ao nível popular, alimenta-se do prodígio, e o milagre é o prodígio mais democrático que pode existir. A Igreja ao restringir drasticamente e de forma tão racional a irrupção de milagres no quotidiano das pessoas acaba por fazer alinhar a própria instituição na grande corrente iluminista anti-católica, gerando, ao mesmo tempo, um afastamento de largas camadas populares que, educadas numa tradição do maravilhoso e da superstição muito anterior ao cristianismo, se cristianizaram pelo maravilhoso e prodigioso que sobressaía no cristianismo. Isto coloca um problema bastante interessante: como será possível uma religião que abandona a superstição, através de uma crítica racional, e que não se resuma, como o protestantismo, a uma mera moralidade racionalizante?
O processo passa, em primeiro lugar, por um departamento médico cuja finalidade, utilizando a linguagem de Karl Popper, é de tentar falsificar (mostrar que é um falso milagre) o acontecimento, mostrando que a cura pode ser explicada por causas naturais. Este processo, do ponto de vista epistemológico é também muito interessante, pois "exclui todas as doenças psicológicas (pois são organicamente inverificáveis) e aquelas sob tratamento (pois este pode ser a causa da cura, mesmo que isso seja estatisticamente improvável)". Há todo um esforço de reduzir o fenómeno a uma explicação empírica e testável. Mas se a cura é "inexplicável no estado actual dos conhecimentos médicos", o dossier passa um segundo comité médico, de âmbito internacional. Apenas os casos que passam nesta segunda comissão de carácter médico-científico é que são remetidos para esfera religiosa, para o bispo do lugar da pessoa curada (e não para o bispo de Tarbes e Lourdes) que, ajudado por uma comissão canónica diocesana, determina se a cura pode ser declarada, segundo a fé, milagrosa ou não. A última declaração de uma cura milagrosa foi em 2005 e era referente a um processo que tinha 53 anos.
O que é pertinente observar é o extremo cuidado com que a Igreja Católica lida com este tipo de fenomenologia e a mobilização que faz de uma aparelhagem científica e filosófica para determinar a verosimilhança metafísica do fenómeno. Não é apenas o recurso à ciência médica que está em jogo, ou o recurso a uma certa concepção epistemológica que pode encontrar raízes ou semelhanças em/com o falsificacionismo popperiano. Há no processo, mesmo depois de declarada a natureza milagrosa da cura, um elemento que - embora eu não saiba se isso, no âmbito da Igreja, é praticável e praticado - permite reverter a declaração: "a cura é inexplicável no actual estado dos conhecimentos médicos". O que deixa em aberto o caminho para falsificar o milagre declarado (mostrar que é falso), pois novas formas de compreensão das patologias poderão trazer uma nova compreensão da doença e da cura, mesmo que esta seja instantânea e tenha efeitos duradouros.
Esta racionalidade religiosa, esta busca de uma probidade intelectual em matéria de fé, por parte da Igreja Católica, pode ser uma das variáveis a ter em conta para explicar a razão do declínio dessa mesma fé. Esta, pelo menos ao nível popular, alimenta-se do prodígio, e o milagre é o prodígio mais democrático que pode existir. A Igreja ao restringir drasticamente e de forma tão racional a irrupção de milagres no quotidiano das pessoas acaba por fazer alinhar a própria instituição na grande corrente iluminista anti-católica, gerando, ao mesmo tempo, um afastamento de largas camadas populares que, educadas numa tradição do maravilhoso e da superstição muito anterior ao cristianismo, se cristianizaram pelo maravilhoso e prodigioso que sobressaía no cristianismo. Isto coloca um problema bastante interessante: como será possível uma religião que abandona a superstição, através de uma crítica racional, e que não se resuma, como o protestantismo, a uma mera moralidade racionalizante?
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
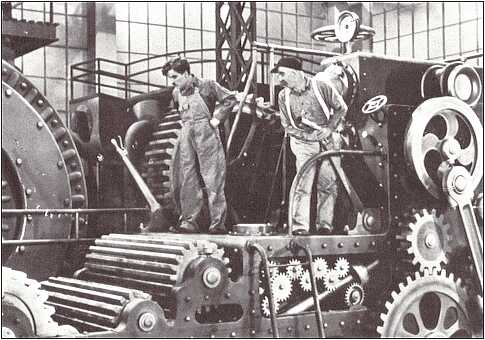
.jpg)
.jpg)

